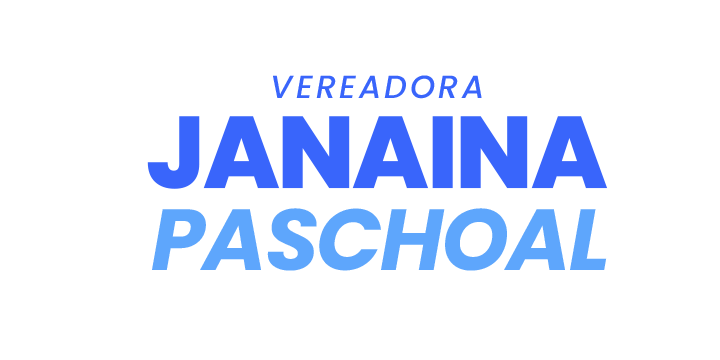A advogada e deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PRTB) foi uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Segundo a petição, a petista cometeu crime de responsabilidade ao atrasar repasses para pagamentos de benefícios sociais ao Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e ao autorizar a abertura de créditos suplementares sem a autorização do Congresso. Ao fim do processo, Dilma foi destituída do cargo, em agosto de 2016.

O governo Jair Bolsonaro (PL) vem desrespeitando o teto de gastos há tempos. Além disso, foi omisso e contrário a medidas de combate ao coronavírus e vem usando o orçamento secreto para comprar apoio de parlamentares. Contudo, os atos do presidente não justificam um pedido de impeachment, opina Janaína. Ela alega que os gastos que ultrapassaram o limite do teto não constituíram “pedaladas fiscais” porque foram aprovados pelo Congresso. Também sustenta que Bolsonaro errou em alguns aspectos durante a epidemia da Covid-19, mas acertou ao instituir o auxílio emergencial e ao comprar e disponibilizar à população vacinas contra a doença.
Pré-candidata a senadora, Janaina Paschoal decidiu concorrer ao cargo por entender que falta aos parlamentares um perfil mais jurídico — ela também é professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Se eleita, pretende “nacionalizar” os projetos que apresentou na Assembleia Legislativa de São Paulo, como um que acelera o processo de adoção e outro que estabelece programa de recuperação de dependentes químicos no sistema carcerário.
Em entrevista à ConJur, Janaina Paschoal ainda defendeu o legado da autodenomimada “lava jato”, disse ser favorável a candidaturas avulsas e criticou a ação que busca a legalização do aborto no Supremo Tribunal Federal.
Leia a entrevista:
ConJur — Por que a senhora decidiu se candidatar a senadora?
Janaina Paschoal — Porque falta muito aos senadores o perfil mais técnico-jurídico. Muitas vezes, eu até sinto os senadores bem-intencionados, mas, com todo respeito, falta esse perfil mais técnico- jurídico. E eu entendo que eu tenho esse perfil. Tenho uma formação, graduação, doutoramento, livre-docência, muitos anos de docência, de advocacia. Então eu acredito que tenho esse cabedal para o cargo. Senador é diferente de deputado. É claro que a formação jurídica também ajuda o deputado. Eu senti isso no dia a dia como deputada estadual. Faz muita diferença. Mas no Senado é mais importante, por ser uma casa mais sênior, por de certa forma fazer a revisão do que acontece na Câmara dos Deputados, por ser também um tribunal — os processos de impeachment são julgados pelo Senado.
ConJur — Em sua opinião, a advocacia, a academia e demais profissionais do Direito deveriam ter maior participação no processo legislativo? Se sim, como?
Janaina Paschoal — Com certeza. Seja como legisladores, seja acompanhando os trabalhos mais de perto. Mas isso eu via em sala de aula muito antes de pensar em me candidatar. Eu dizia para os meus alunos que os professores são muito acomodados. Eles esperam a lei sair para daí fazer críticas. Mas há vários professores que se envolvem no processo legislativo. Eu sempre tive o costume de acompanhar os projetos, de me manifestar publicamente sobre projetos em andamento. E era muito comum as pessoas dizerem: “Você está perdendo seu tempo. Isso aí não vai dar em nada”. Mas eu sempre levei muito a sério o processo legislativo.
ConJur — Uma vez eleita, a senhora apresentaria um ou mais projetos logo no início do mandato? Se sim, quais?
Janaina Paschoal — A minha ideia é pegar todos os projetos que eu apresentei na Assembleia Legislativa de São Paulo e “nacionalizá-los”, digamos assim. Isso dá um certo trabalho. Por exemplo, tem algumas matérias que eu apresentei na Alesp de forma mais restrita, porque a competência estadual é mais restrita do que a federal. Então a ideia seria não apenas transportar as matérias para o âmbito federal, mas também ampliá-las. Vou te dar um exemplo. Tem um projeto meu, que já foi aprovado e está aguardando sanção do governador, para acelerar o processo de adoção. Mas eu só fiz alterações dentro das competências estaduais. Indo para o âmbito federal, eu poderia também fazer alterações processuais, que acelerariam ainda mais esse trâmite.
Eu tenho uma visão de que é necessário enxugar o parlamento federal. Diminuir o número de representantes. Para ter força, um projeto dessa natureza teria que vir do Executivo. Mas eu gostaria de apresentar uma proposta de emenda à Constituição para diminuir o número de representantes. Se conseguirmos diminuir o número de deputados federais e de senadores, nós também conseguimos diminuir o número de deputados estaduais e vereadores, porque tudo é proporcional.
ConJur — Qual seria o número ideal de deputados federais e senadores?
Janaina Paschoal — Teríamos que fazer um estudo, ver a proporcionalidade. Mas olha, se desse para resolver reduzir pela metade seria muito bom. Não só pela economia que acarretaria, mas também pela visibilidade que isso daria. Hoje uma pessoa pode ser deputada por quatro, oito anos, 20 anos, e ninguém sabe que ela é parlamentar. E isso torna a vida da pessoa muito confortável e acaba abrindo portas, não vou nem dizer para a corrupção, mas para lobby. De a pessoa receber projetos prontos só para serem protocolizados. E aí ela não precisa se expor. É tanta gente ali, ninguém sabe quem é quem. A pessoa manda aprovar um monte de coisa sem nunca se expor, sem nunca dar uma entrevista defendendo as suas ideias.
ConJur — A senhora é professora de Direito Penal — matéria de competência federal. Portanto, não há muito o que fazer sobre o tema na Assembleia Legislativa de São Paulo. Se eleita senadora, a senhora apresentaria algum projeto de lei relacionado ao Direito Penal?
Janaina Paschoal — Olha, a nossa legislação penal é boa, por incrível que pareça. Eu só acho que ela é mal aplicada. Não precisa endurecer muito. Mas há algumas coisas que faltam. Vou te dar um exemplo. Na disciplina das medidas socioeducativas que se aplicam aos adolescentes que praticam ato infracional, não temos uma especificidade para o adolescente que tem um problema mental. Nós trabalhamos com uma inimputabilidade pela idade. Mas quando se diz que ele é inimputável pela idade, ninguém estuda a inimputabilidade pelas questões mentais. E existem casos de adolescentes com questões mentais associadas à prática de ato infracional, e esses adolescentes são colocados todos juntos. Isso dificulta muito, tanto a situação do adolescente que praticou um ato infracional e não tem nenhuma questão mental como aquele que tem. Existe o Sistema Nacional da Criança e do Adolescente, mas não é algo específico. Tinha que ser mais claro. A mesma coisa para o adolescente que apresenta uma drogadição. Não há um tratamento específico. Eu tenho muita preocupação com essa parte das medidas socioeducativas. A saúde mental também fica em segundo plano no caso dos presos. Eles vivem em um limbo. É como se os profissionais do Direito não quisessem tratar deles. Os profissionais da Medicina também entendem que não é com eles.
Muitas vezes, a atividade parlamentar é mais o trabalho de evitar leis ruins do que de criar leis boas. A nossa legislação não é ruim. Ela é mal aplicada. Muitas vezes, vão sendo feitas leis em cima de leis, sem uma preocupação com sistematização, com revogação clara de diplomas incompatíveis. Isso acaba gerando muita insegurança jurídica. A minha preocupação seria mais de olhar para uma sistematicidade do que sair por aí apresentando projetos de maneira inadvertida.
ConJur — A qualidade da Justiça se subordina à qualidade das leis?
Janaina Paschoal — Sim, mas depende mais da qualidade dos aplicadores. Outra área que eu acho que está carente de legislação é a dos profissionais de aplicativos. A Câmara dos Vereadores de São Paulo está conduzindo uma Comissão Parlamentar de Inquérito na área dos aplicativos. Eu venho sendo procurada por profissionais de aplicativos. É muito interessante, porque é uma nova modalidade de trabalho. Ao mesmo tempo em que eles querem um pouco mais de segurança caso sofram um acidente, eles não querem perder a autonomia. Às vezes eu converso com colegas mais de esquerda, e eles querem dar a esses trabalhadores as garantias dos empregados em geral. Mas quando você se senta com esses profissionais, não é isso que eles querem. Ouvi vários deles dizendo o seguinte: “Às vezes a plataforma me manda uma corrida, fazer uma entrega em um bairro que é o contrário de onde eu estou. Eu rejeito. Aí eu rejeito uma, duas, três vezes. Quando eu vou rejeitar a quarta, eles me suspendem. Mas eles não têm esse direito, porque eu sou dono do meu trabalho”. É um desafio para o legislador encontrar um caminho jurídico que englobe essa novidade.
E eu percebo uma dificuldade na cabeça dos legisladores: ou o cara quer que o rapaz se dane, “ó, você não tem nenhum direito. É isso aí mesmo”, ou quer engessar, colocar como empregador comum. E isso não os atende. Há aí alguns desafios de novas modalidades.
Eu tenho uma preocupação muito grande em garantir a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Nós vivemos uma tendência de criminalização do discurso. É óbvio que eu não compactuo com ameaças, agressões, ofensas. Mas estamos indo de um extremo para o outro. Estamos vivendo “o extremo melindre”. Quem trabalha com a palavra, quem trabalha tendo de escrever, publicar, vive em uma situação de alto risco no país hoje.
ConJur — Nas últimas eleições, as fake news foram uma grande questão. Como a senhora pensa ser possível conter as fake news, mas sem prejudicar demais a liberdade de expressão?
Janaina Paschoal — Olha, a melhor forma de lidar com fake news é com mais liberdade. Quem é que vai dizer o que é fake news? Isso que é duro. Hoje há situações em que, a princípio, se diz: “Nossa, isso não existe, é um absurdo. Isso é fake”. Depois de passar um tempo, começam a surgir mais elementos, aí se vê que não era fake. Se não permitirmos que as pessoas falem, que as apurações ocorram, ainda que sejam apurações pela imprensa, nós ficamos muito engessados. É claro que, se uma pessoa ameaça a outra, aí não é fake news, é ameaça. Já temos tipificação para os abusos. O meu medo é que parece que toda ideia que desagrada é apresentada como fake news.
ConJur — Então, para fake news, a responsabilização a posteriori, seja civil ou penal, em caso de crimes contra a honra, já é suficiente em caso de abusos?
Janaina Paschoal — É mais do que suficiente. E vou além: não gostei dos aumentos de pena recentemente estabelecidos para crimes contra a honra (para delitos cometidos na internet). Esses aumentos de pena podem inviabilizar a liberdade de expressão. Porque qualquer coisa que a pessoa fale, sobretudo se por pela internet, pode gerar punição, e as penas são pesadíssimas. Eu desenvolvi com os meus alunos um semestre inteiro sobre liberdade de expressão e manifestação. E eu alertei meus alunos que eu vinha sentindo um movimento, não só no Brasil, mas no mundo, de pessoas entenderem como legítimo punir mais severamente quem fala do que quem faz. E eu levantei várias situações. Lembro-me de um jornalista (Marco Aurélio Carone) que chegou a ficar preso por meses em Minas Gerais por divulgar supostos escândalos do ex-governador Aécio Neves (PSDB). Ainda que tudo que esse jornalista divulgou fosse errado, a pessoa que exerce um cargo público está sujeita a críticas. Não é que quem está em um cargo público mereça ser atacado. Eu hoje estou em um cargo público, e é duro, sabe? Nós sofremos muitas injustiças. Mas daí prender o jornalista só por que ele acusou o governador, sendo que não ficou provado que foi pago para fazer aquilo, que fraudou documentos, é exagerado. Esse tipo de situação me preocupa, independentemente de quem seja o governante, se é de direita, de esquerda, de centro. Temos que ter muita cautela com punição, sobretudo penal, pelo uso da palavra.
ConJur — Em sua opinião, é possível ou desejável criar parâmetros objetivos para aferir o impacto econômico e social das leis?
Janaina Paschoal — Olha, nós nunca vamos conseguir precisão, mas é desejável pelo menos ter essa preocupação. Na Alesp, há previsão de termos essa preocupação, de ver o impacto dos projetos. Inclusive há restrições a projetos de lei de autoria de deputados quando houver elevado impacto econômico. Então isso já existe em teoria, mas não é muito da nossa cultura na prática. É desejável cultivar essa cultura. Vou te dar um exemplo. Eu tenho recebido alunos das escolas técnicas com dificuldade de arrumar emprego. Quando conversamos com os potenciais empregadores, nós percebemos uma resistência por parte deles com aqueles cursos. Então eu comecei a buscar índices de empregabilidade, pedi uma reunião com a secretária da pasta, pedi para ela gráficos, tabelas, índices pelos quais eu pudesse avaliar o nível de empregabilidade dos alunos. Ela disse que me mandaria no dia seguinte. Já tem quase dois meses, e não mandou. Nós entramos em contato, mandamos e-mail, mas até agora, nada. Quando se investe em um curso universitário, um curso técnico com dinheiro público, é preciso ter uma ideia de retorno para a sociedade. Porque cria-se expectativas na sociedade, naquele estudante, na sua família. E quando essa expectativa é frustrada, as perdas são muito maiores, fora o dinheiro investido. Os alunos que vieram reclamar comigo são os que estão fazendo cursos técnicos em práticas forenses. Eles se formam, e os escritórios não contratam porque preferem contratar advogados júnior. Sendo assim, vale a pena continuar investindo nesses cursos. Existe a preocupação de ouvir o mercado? A cultura de olhar a rentabilidade, os gastos envolvidos e a eficiência é muito saudável.
ConJur — A senhora defende candidaturas avulsas. Isso não poderia fortalecer “celebridades políticas” e travar os debates legislativos, pois seria mais difícil para o governante formar alianças?
Janaina Paschoal — Eu defendo as candidaturas avulsas porque hoje nós vivemos um cartel dos partidos. Eu vou te dar um exemplo muito claro, o de Sergio Moro. Sergio Moro saiu do Podemos no último dia do prazo e foi para o União Brasil. No União Brasil, ainda que ele implore para sair a presidente, ele não vai conseguir. Independentemente de você gostar dele ou não, se entrar nas redes sociais dele, irá ver o número de pessoas que imploram para ele sair candidato a presidente. Já o presidente do União Brasil, Luciano Bivar (atual pré-candidato a presidente do partido), nas últimas pesquisas teve 0,6%, 0% de intenção de voto. Então há um povo querendo votar em uma pessoa, uma pessoa que diz que quer ser votada pelo povo, e o dono do partido, dono da caneta, dono dos recursos do Fundo Eleitoral, dizendo não.
Há reuniões que são feitas entre os donos dos partidos para decidir quem vai sair a que cargo. É uma situação típica de cartel. Quando empresas dividem mercado de licitações ou mercado no sistema privado, isso é crime. Mas isso acontece entre os partidos, e não existe nenhum instrumento para o candidato se defender. Eu mudei de partido porque o União Brasil foi muito claro que não me daria legenda para concorrer ao Senado. Eu estou indo para o PRTB. Se o presidente do PRTB virar para mim e disser: “Olha, Janaina desculpa, você está só com 6% de intenção de voto, não vou te dar legenda”, não tem um instrumento para eu o obrigar. Eu não tenho a possibilidade de dizer: “Tudo bem, eu agradeço, então vou me candidatar sozinha.” Isso é o que acontece, eu posso perder. Mas não existe essa liberdade. Essa liberdade é reconhecida no Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil é signatário desse pacto. Então eu entendo a candidatura avulsa como uma garantia individual.
ConJur — A “lava jato” vem caindo por terra, graças a decisões que têm declarado ilegalidades do caso, sendo uma delas a suspeição de Sergio Moro para julgar o ex-presidente Lula. Como avalia o legado da “lava jato”?
Janaina Paschoal — Eu não concordava com tudo da operação. Por exemplo, quando (o ex-procurador da República) Deltan Dallagnol se envolveu nas “Dez medidas contra a corrupção”, eu tinha muitas críticas a algumas daquelas medidas. Como trazer para o Brasil, de maneira muito automática, o plea bargain? Conheço bem esse instrumento. Então eu tinha muitas críticas, eu até apanhei bastante por isso. As pessoas concordavam com os pacotes fechados. E eu sempre disse que eu não compro pacote fechado nenhum, eu analiso caso a caso.
Agora, a luta que foi feita contra a corrupção foi algo histórico, sem precedentes, importante, ainda que não se concordasse com um ou outro ponto. Eu não consigo ver respaldo nas decisões do Supremo para anular de uma maneira tão absoluta assim a operação. Porque o mesmo Supremo que diz que o ex-juiz e ex-ministro era parcial é o Supremo que tem ministro que dá festa de aniversário para parlamentar que está com inquérito na corte e depois arquiva o procedimento. Nem estou dizendo que a pessoa seja culpada, mas espera aí. No ambiente em que eles entendem ser normal dar uma festa de aniversário e arquivar o inquérito, como é que disseram que Moro era parcial? São os mesmos magistrados que julgam ações em que suas esposas, seus familiares são advogados. Eu não consigo ver proporcionalidade nem coerência com as próprias decisões anteriores do Supremo. Eu vejo o trabalho que o Supremo fez em desfazer a “lava jato” como uma semente muito ruim para a insegurança jurídica.
ConJur — A senhora mencionou o plea bargain. A “lava jato” foi a primeira grande operação após ter sido regulamentada a colaboração premiada. Muitos dos casos têm sido anulados por falta de corroboração das declarações de colaboradores. Houve abusos no uso da colaboração premiada na “lava jato”?
Janaina Paschoal — Eu teria de analisar um por um. A colaboração premiada é diferente do plea bargain, porque no plea bargain há o reconhecimento da culpa, a pessoa abre mão do processo. Na colaboração precisa ter respaldo de outras provas. Mas tem situações que estão sendo anuladas que são meio questionáveis, porque tinha mala de dinheiro, tinha vídeo de dinheiro. Ninguém explicou o dinheiro. É uma má lição que o Supremo promove ao anular, por questões muito formais, situações em que tem dinheiro filmado, tem mala, tem tudo. Isso acaba sendo uma mensagem de que determinadas pessoas podem fazer qualquer coisa.
ConJur — Mas as formalidades processuais não são, em última instância, uma garantia de que o processo penal será democrático e respeitará os direitos dos acusados?
Janaina Paschoal — Sim. Mas, por exemplo, o Supremo, por cinco anos, avaliou uma série de recursos em Habeas Corpus de vários dos investigados. Para a gente sair da politização, não é só do ex-presidente Lula. Foram vários. E não viram as irregularidades? São as mais altas autoridades da magistratura. Demoraram cinco anos para ver? Sendo que eram advogados bastante combativos, que insistiam várias vezes. Isso é muito ruim. Uma coisa é quando o magistrado é chamado para decidir um caso pela primeira vez. Aí ele se depara com uma situação e fala: “Vou anular, porque isso aqui é inadmissível”. Outra coisa é passar cinco anos analisando os casos e de repente, sem maiores explicações, começar a anular tudo.
ConJur — Como avalia a entrada de Sergio Moro e Deltan Dallagnol na política? Isso comprova que a atuação deles na “lava jato” foi parcial e parte de um projeto de poder?
Janaina Paschoal — Não. Na verdade, eles ficaram sem saída. Sergio Moro largou a magistratura acreditando que iria conseguir ampliar o seu trabalho como ministro da Justiça. Eu penso que ele foi mesmo para o governo com espírito de realizar. Eu não acredito nas teorias de que ele teria negociado vaga no Supremo. Só que é muito diferente a pessoa se formar e ir para a advocacia, para a magistratura, de ir para a política. A pessoa que vai para a magistratura está acostumada com “prenda-se”, “solte-se”, “cumpra-se”. De repente esse sujeito que com 23 anos definia a vida dos outros, é colocado em um cargo que exige capacidade de diálogo, de negociação — no bom sentido, não estou falando de negociata. Ele não aguentou o tranco. Qualquer coisa que acontecia ele achava que era algo de outro mundo, ficava assustado. Então eu não penso que eles (Moro e Dallagnol) sempre tiveram interesse político. É o contrário: eles tentaram fazer algo legal. Encontraram muita resistência, buscaram outros meios. E realmente não estão tendo condições, pelo menos por enquanto, de viver um outro ambiente, principalmente Moro. Dallagnol, aparentemente, está conseguindo. Sofreu muitas representações que eu considero injustas, como essa decisão do Tribunal de Contas da União de obrigá-lo aí a devolver quase R$ 3 milhões. Existe uma sanha de vingança contra eles.
ConJur — Ao conceder graça ao deputado federal Daniel Silveira logo após sua condenação, o presidente Jair Bolsonaro exerceu uma prerrogativa constitucional ou agiu com desvio de finalidade e se colocou como instância revisora das decisões do Supremo Tribunal Federal?
Janaina Paschoal — Eu tenho muitas divergências com o presidente. Mas se o Supremo tivesse condenado o deputado a uma pena normal, o presidente não ia se meter nesse assunto. Eu ponho minha mão no fogo por isso. Agora, não tem conta que faça um vídeo, por mais malcriado que seja, chegar a nove anos de reclusão. Foi uma situação daquelas muito típicas de ensejar graça, leniência do imperador, na origem, devido à desproporcionalidade da pena. O presidente não se colocou como instância revisora do STF. É que o nível de ilegalidades do julgamento de Daniel Silveira foi muito elevado. Se ele fosse cassado na Câmara dos Deputados por quebra de decoro, eu não criticaria. Mas prendê-lo por nove anos por aquele vídeo? Não há conta que consiga justificar. O presidente tem a prerrogativa de conceder graça. Mas ele não pode anistiar qualquer coisa. Nesse caso, foi algo legítimo, devido à desproporcionalidade da pena.
ConJur — A senhora apresentou projeto de lei que reduz ao teto constitucional os salários, subsídios, aposentadorias, pensões e remunerações pagas com dinheiro público. Por outro lado, o governo Bolsonaro editou portaria permitindo o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto constitucional. Com isso, generais do governo de Bolsonaro receberam até R$ 350 mil a mais em um ano. Como avalia essa portaria de Bolsonaro?
Janaina Paschoal — Eu sou contra. Eu quis contratar uma procuradora aposentada na Alesp. Como ela tinha um alto salário, aposentadoria na íntegra, teria de trabalhar de graça, não receberia nada. Desisti de contratá-la. Como se convida alguém para trabalhar de graça? Essa situação concreta me fez entender por que às vezes as autoridades propõem essas coisas. Ainda assim, eu sou contra. Porque há um teto, e ele tem de ser respeitado. Caso contrário, vão se abrindo diversos precedentes. É pensão de filha solteira, aposentadoria… Isso não tem fim. E temos de comparar àquelas pessoas, que são a esmagadora maioria, que precisam produzir. Se a pessoa quiser ter uma velhice tranquila, vai ter de produzir, guardar, fazer poupança. Então temos de mudar a mentalidade.
ConJur — A senhora foi autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff por pedaladas fiscais. O governo Bolsonaro vem furando o teto de gastos há tempos, o que também configura uma pedalada fiscal. Além disso, foi omisso e contrário a medidas de combate ao coronavírus e vem usando o orçamento secreto para comprar apoio de parlamentares. Tais atos não justificariam um pedido de impeachment?
Janaina Paschoal — Vamos por partes. A pedalada, que nós atribuímos e comprovamos, ocorreu no fato de a presidente utilizar dinheiro dos bancos públicos, que não são do Poder Executivo, para aprovar os programas alardeados e para pagar empréstimos para empresas escolhidas a dedo. E tudo conectado com o “petrolão”, ficou muito evidenciado na denúncia. Esses furos do teto de gastos — que eu não defendo, eu sou favorável a cumprir o teto — foram em virtude das concessões por causa da epidemia. Então teve votação legislativa para isso. Esses furos não desrespeitaram o Legislativo, como aconteceu no caso da ex-presidente Dilma. Quando se decreta estado de calamidade pública, há o afastamento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Na Alesp, eu votei contra. Falei: “Eu não estou contra o povo. Isso é uma farra. E depois eu que vou ter de responder. Então eu vou votar contra.” Então houve toda uma discussão prévia, que é diferente de se gastar e depois tentar criar uma contabilidade para disfarçar.
Durante a epidemia, eu fui uma das mais críticas ao presidente, sobretudo no começo. Tem um discurso que eu fiz pedindo para ele sair, e até hoje o povo me joga isso na cara. Tem pontos em que o presidente acertou, tem pontos em que ele errou. Teve o auxílio-emergencial, nunca antes na história desse país foi feito com tanta agilidade. Na questão das vacinas, o presidente tem a visão dele, à qual ele tem direito como indivíduo, mas não se negou a comprar, disponibilizar. O Brasil tem um dos índices mais altos de vacinação. O presidente tem umas peculiaridades dele, mas agiu corretamente. É que ele fala demais, tem aquele jeitão. Eu não vejo, por ora, motivo para impeachment.
Eu sou contra essas emendas secretas. Aliás, eu sou muito resistente ao próprio sistema de emendas, sobretudo aquelas que não são as impositivas, claramente previstas em leis. Isso dá margem a um monte de coisa. Não só compra de voto de parlamentar. Dá margem a liberar dinheiro, ter empresa de fachada na ponta para desviar.
Agora, o Supremo se mete em tudo, teve a oportunidade de se meter nisso, mas não fez nada. De certa forma, parece que todos os poderes se uniram para que isso seguisse adiante. Eu sou contra. Defendo que tem que ser transparente. Defendo isso na Alesp também. Essa prática também existe na Alesp. Só que, não sei por quê, é como se na Alesp fosse normal, e no Congresso não. Talvez porque os valores são mais elevados. Mas eu não aceito emenda fora do que está previsto em lei, no orçamento, tudo bonitinho. Em São Paulo funciona assim: quem trabalha desse jeito, o governo não paga essas emendas; quem trabalha com outras emendas, o governo paga em uma semana.
ConJur — A senhora apresentou projeto de lei que estabelece o Programa de Recuperação de Dependentes Químicos no Sistema Prisional do Estado de São Paulo. Na justificativa, argumentou que um dos objetivos é reduzir a reincidência. Cerca de um terço dos presos do país está encarcerado por crime relacionado à Lei de Drogas. Não seria melhor descriminalizar a posse para consumo ou até regulamentar a venda de drogas e tratar o assunto como sendo de saúde pública, e não criminal, como diversos países vêm fazendo?
Janaina Paschoal — O meu projeto não é especificamente para presos por tráfico de drogas. É para presos que têm envolvimento com drogas. Muitas vezes a pessoa vai praticar um roubo porque precisa de dinheiro para comprar droga. Ainda que eventualmente houvesse uma descriminalização da venda ou legalização, o projeto teria sentido. Há muita gente no sistema prisional que tem envolvimento com drogas, é drogadicto, é usuário. Muitos são usuários, dependentes de drogas, se envolveram com o crime, muitas vezes até pesado, por força dessa dependência. Mas não existem pessoas presas por terem portado droga para uso próprio, porque a legislação prevê uma série de medidas não prisionais para esses casos.
Eu recebi na (faculdade de Direito) São Francisco o então diretor da Faculdade do Porto, que foi apresentar todo o sistema de drogas português. Ele deixou claro que o que o pessoal alardeia aqui, que em Portugal está tudo legalizado, não é bem assim, porque as sanções administrativas portuguesas são mais pesadas do que as sanções penais brasileira. Também é um pouco de ilusão isso de que “ah, nos outros países…”. Mesmo na Holanda. Há uma tolerância nos coffee shops, mas se vier uma carga muito grande, vai entrar como tráfico pesado. Então nosso sistema não é tão diferente do que acontece em outros países.
ConJur — Em audiência pública na ADPF 442, a senhora se manifestou contra a legalização do aborto. A prática vem sendo legalizada em diversos países da América Latina. Dados do Ministério da Saúde mostram que, a cada dois dias, uma brasileira pobre morre vítima do aborto inseguro. Além disso, dados de institutos internacionais mostram que o número de abortos caiu na maior parte dos países em que a prática foi legalizada. A proibição do aborto não acaba apenas prejudicando as mulheres pobres, já que as ricas o exercem de qualquer maneira, e limitando as escolhas das mulheres?
Janaina Paschoal — O que prejudica é obrigar essas mulheres a fazerem parto sem anestesia. É negar a essas mulheres o direito de escolher se vão ter seus filhos por parto normal ou por cesariana, sendo que qualquer uma que tenha um convênio pode participar dessa decisão com seu médico. É uma mulher diagnosticar um câncer e não fazer um procedimento. Nessa ADPF, o Psol pede para que a mulher grávida possa chegar no SUS e dizer: “Olha, eu quero fazer um procedimento (aborto) agora”. Parece piada. Falta recurso para fazer o básico, como, por exemplo, garantir anestesia. Um dos meus projetos que virou lei é para a mulher ter o direito da anestesia garantindo, ter o direito de escolher fazer cesariana, dialogando com o seu médico. Hoje isso não é garantido. Então como é que vai fazer? Vai dar prioridade para o aborto, que é morte, no lugar de dar prioridade para questões de saúde, para a criança nascer e assim por diante?
A nossa legislação é boa. É uma legislação ponderada. Existe a possibilidade de interrupção da gestação quando a mulher engravida de estupro, quando a mulher corre risco de morte, quando a criança é anencefálica ou tem algum tipo de síndrome que inviabiliza a vida extrauterina. A legislação ampara a mulher para ela entregar o bebê para adoção. Há vários métodos contraceptivos disponíveis. Eu defendo universalizar vasectomia e laqueadura — claro, desde que a pessoa queira. Tem mulher com quatro filhos que pede para fazer laqueadura, e o Estado não permite.
Então há outras alternativas, que vêm antes (de legalizar o aborto). Eu prefiro lutar por essas a lutar por uma legalização que não vai ajudar a mulher. Pelo contrário, das mulheres que eu conheço que fizeram aborto, a maioria não lida bem com isso. A legalização vai facilitar a vida do homem. Se outros homens já não se responsabilizam, se legalizar o aborto, aí será mais fácil para o sujeito falar: “Vai lá e tira”. Não consigo ver o lado positivo para as mulheres nessa causa. É mais uma manipulação do discurso.
ConJur — A legalização do aborto não permitiria que a mulher tivesse um maior controle sobre seu próprio corpo? Não se trata de um desdobramento dos seus direitos sexuais e reprodutivos?
Janaina Paschoal — Existem métodos contraceptivos. Ninguém está mandando a mulher não vivenciar sua vida sexual. Tem pílula, tem preservativo — que é o que eu mais recomendo porque preserva, previne outras coisas —, tem DIU, tem anticoncepcional subcutâneo. Inclusive tem um lobby do caramba da indústria farmacêutica por trás disso aí. Tem laqueadura para quem já teve os filhos que queria ter. Tem todos os métodos para o homem também.
Eu até brinquei na audiência pública no Supremo que metade dos fetos são “fetas”. Estamos falando do direito de as mulheres nascerem. Porque fica essa coisa, falam do direito da mulher, que é a mulher grávida. Mas e o feto? Como se o feto fosse homem só. Também são “fetas”. Eu sei que não existe a palavra, mas fica mais fácil para enxergar. Eu quero defender o direito de as mulheres nascerem.